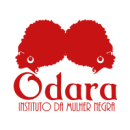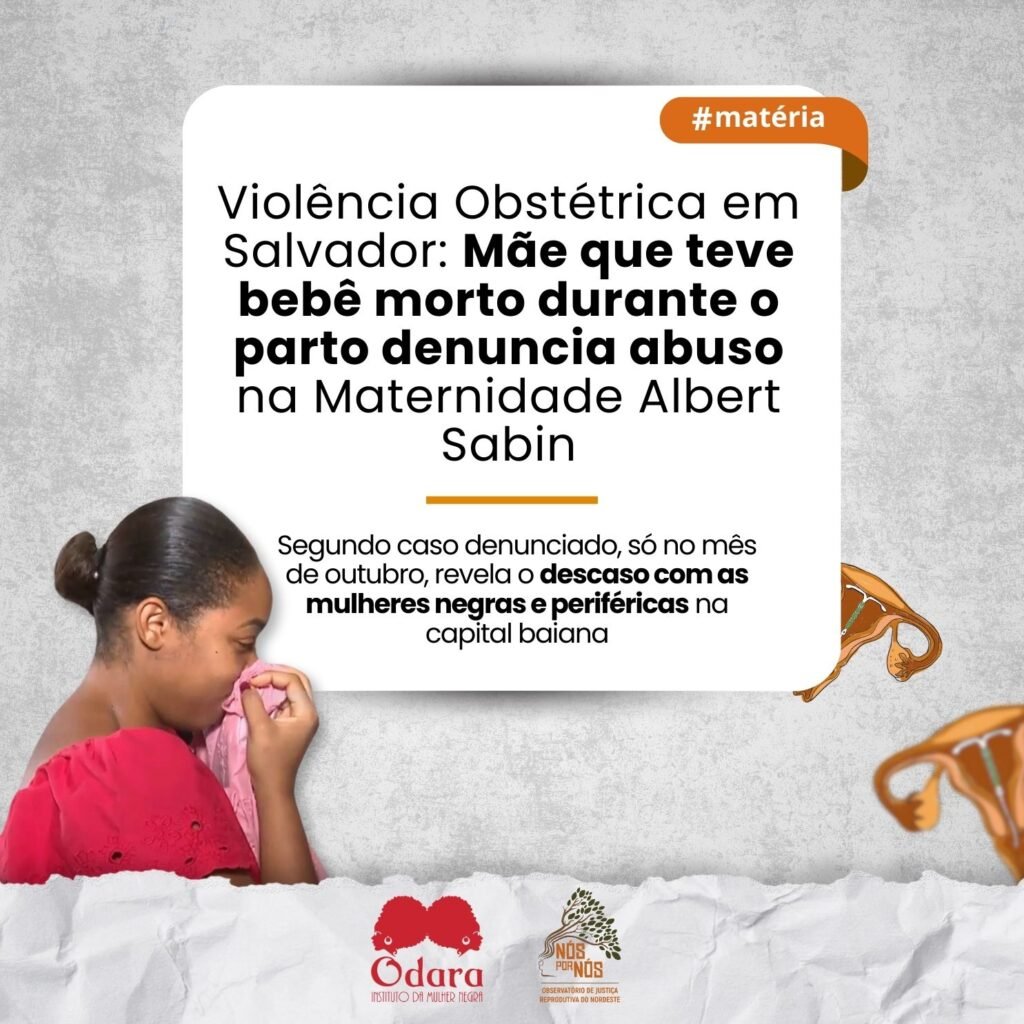
Por Adriane Rocha
Na última quinta-feira (31), um caso grave de violência obstétrica foi noticiado e denunciado em Salvador (BA). Liliane Ribeiro, uma mulher negra, perdeu sua filha, Anabelly, no momento do parto e detalhou, em entrevista a TV Bahia, uma série de violências sofridas na Maternidade Albert Sabin, localizada no bairro de Cajazeiras e gerida pelo governo do estado.
Segundo Liliane, ela foi forçada a passar por um parto natural, apesar da recomendação de cesárea feita pelos médicos que a acompanharam durante o pré-natal; além de ter sido destratada e abandonada pela pela equipe médica antes da finalização do parto.
Liliane explicou que fez o pré-natal em duas unidades de saúde diferentes: uma pública e outra privada, com o objetivo de garantir o melhor acompanhamento possível para a filha Anabelly, que estava saudável e não havia sinais de complicações. A única recomendação feita pela equipe da unidade privada foi que a bebê estava com um tamanho considerável, o que, segundo os profissionais, tornaria o parto cesáreo uma opção mais segura.
No entanto, na véspera do dia que a cesária estava marcada, Liliane teve a bolsa rompida e foi levada para a Maternidade Albert Sabin. Naquele momento, a bebê estava com 31 semanas de gestação, e apesar de já estar com a bolsa rompida e o líquido amniótico escorrendo, a mãe relata que teve que esperar 40 minutos para ser atendida: “A médica que fez meu pré-natal me alertou para tomar cuidado com o que eu falasse lá, para não gritar, porque eles [os funcionários da maternidade estadual] costumam tratar mal quem reclama”, afirmou.
Durante o trabalho de parto, Liliane relatou que a equipe a tratou de forma desrespeitosa, mandando-a fazer força de forma agressiva e até a chamando de “presepada”. Quando a cabeça do bebê apareceu, a médica fez uma manobra invasiva para retirá-la com o uso das mãos, e o pai percebeu que algo estava errado. Liliane afirmou que a médica, com a luva rasgada e as unhas notavelmente grandes, entregou rapidamente a criança para outros profissionais e saiu da sala apressada. Segundo ela, houve uma perfuração no pescoço do bebê teria sido causada pela unha da médica. A bebê passou por uma massagem cardíaca, mas o óbito foi confirmado pouco depois.
O hospital informou que a criança nasceu morta, mas Liliane e o marido contestaram a versão, afirmando que a bebê estava viva antes de entrar na sala de parto e que chegou a mexer. Eles registraram um boletim de ocorrência, solicitaram uma necropsia no Instituto Médico Legal (IML) e aguardam o resultado da investigação, que deve ser concluída em até 30 dias.
A HISTÓRIA SE REPETE
No dia 15 de outubro, 21 dias antes do caso de Liliane, Francielly Rodrigues, outra mulher negra, também vivenciou a dor da perda e da violência na Maternidade Maria da Conceição Jesus, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Mãe de um menino de 7 anos de um relacionamento anterior, ela e seu atual marido aguardavam com ansiedade a chegada do primeiro filho juntos.
De acordo com Bruno Araújo, pai do bebê, no dia 3 de outubro, Franciely, já com 40 semanas de gestação, procurou atendimento na maternidade devido a dores intensas e ao bebê se mexendo de forma excessiva: “A doutora realizou o exame de toque e informou que não havia dilatação, além de assegurar que estava tudo bem. Ela sugeriu que fôssemos para casa, mas decidimos questionar. Perguntei por que não seria feito um ultrassom, e ela explicou que o exame de cardiotocografia era mais indicado”, relatou o pai.
No dia seguinte, Bruno contou que Francielly fez uma consulta de pré-natal, e durante o exame, foi detectado que o coração do bebê não estava batendo. Diante disso, decidiram retornar à maternidade: “Eu mencionei que a mãe estava sentindo dores e, mesmo assim, continuaram fazendo várias perguntas. Perguntei à equipe médica o que poderia ter ocorrido, e eles informaram que a placenta estava posicionada corretamente, sem cordão umbilical no pescoço do bebê. O único problema identificado foi a quantidade insuficiente de líquido amniótico, algo que poderia ter sido detectado no ultrassom do dia anterior”, afirmou.
Através de uma nota, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) informou que após passar por consulta e exames, Franciely foi liberada porque parâmetros indicavam normalidade na saúde do feto. Disse ainda que todos os procedimentos adotados foram explicados à paciente:
“A Secretaria Municipal da Saúde lamenta o ocorrido e informa que todos os cuidados relacionados à assistência pré-natal, seguindo as normativas vigentes foram realizados no acompanhamento da Senhora Franciely Rodrigues Cerqueira. Seguindo a rotina dos protocolos e fluxos de serviços vigentes, no último dia 04 de outubro, esteve na consulta pré-natal de rotina e devido ao quadro apresentado, foi encaminhada com ficha de referência para avaliação obstétrica de emergência na maternidade de referência do território. Vale salientar que a SMS está disponível para demais esclarecimentos a família e se solidariza.”
O DIREITO A MATERNIDADE NÃO É PARA TODAS
A violência obstétrica é um problema estrutural e multifacetado. Segundo dados do Dossiê do Nós por Nós: Observatório de Justiça Reprodutiva no Nordeste, mulheres negras têm 50% de chance de não receber anestesia durante o parto, se comparado às mulheres brancas, o que evidencia que práticas inadequadas e negligentes durante o parto, está frequentemente atrelada ao pertencimento racial da parturiente.
Em Salvador, onde a população negra é majoritária, o racismo patriarcal tem um impacto direto na qualidade do atendimento médico oferecido às mulheres. No contexto das maternidades estaduais na cidade, como a Albert Sabin e a Maria da Conceição Jesus, as denúncias de maus-tratos, negligência e violência obstétrica atingem de forma desproporcional mulheres negras e periféricas, o que também acontece na maternidade Tsylla Balbino Este fenômeno reflete um sistema de saúde que, em muitos casos, negligencia as mulheres mais vulnerabilizadas, agravando as desigualdades raciais e sociais.
Para muitas mulheres negras o parto não é apenas um momento de grande expectativa, mas também um momento de vulnerabilidade, em que o racismo e o sexismo se manifestam de formas profundas. Mulheres negras frequentemente são desacreditadas nas suas queixas sobre dor ou complicações, com profissionais de saúde minimizando suas preocupações ou, em alguns casos, desconsiderando seus sinais de alerta.
A violência obstétrica e as altas taxas de mortalidade materna são graves no Brasil, evidenciando falhas no sistema de saúde e desigualdades raciais. Dados da Fundação Perseu Abramo revelam que uma em cada quatro mulheres brasileiras sofre violência durante a gestação ou o parto, refletindo um modelo de assistência que muitas vezes desrespeita os direitos das mulheres.
No que diz respeito às cesarianas, o Brasil apresenta números alarmantes: enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que apenas 15% dos partos sejam cesáreas, o país atinge 52%, com uma taxa ainda mais elevada na rede privada, chegando a 88%. Esses números indicam uma medicalização excessiva do parto, muitas vezes sem necessidade, o que pode impactar a saúde de mães e bebês.
A mortalidade materna também é um grave problema, especialmente para as mulheres negras. Dados do Ministério da Saúde de 2022 mostram que, enquanto a taxa de óbitos para mulheres brancas é de 46,56 mortes por 100 mil nascidos vivos, o índice para mulheres negras (pretas) é mais que o dobro: 100,38 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Para mulheres pardas, a taxa é de 50,36. Esse dado evidencia a disparidade racial, com as mulheres negras sendo as mais afetadas, resultado do racismo que impacta o acesso à saúde.
Esse cenário é ainda mais crítico diante da meta do Brasil junto às Nações Unidas, de reduzir para 30 o número de mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos até 2030. A mortalidade materna é amplamente evitável com políticas públicas adequadas e cuidados simples, mas continua sendo um desafio significativo.
Outro problema é o uso excessivo de intervenções no parto. Cerca de 60% dos procedimentos no Brasil envolvem o uso de ocitocina para acelerar o trabalho de parto; 56% recorrem à manobra de Kristeller, uma técnica realizada também com o objetivo de acelerar o trabalho de parto, na qual é feita pressão externa sobre o útero da mulher para diminuir o período expulsivo; e 86% aos casos de episiotomia, uma incisão realizada na região do períneo para ampliar o canal de parto, muitas vezes sem indicação médica. Essas práticas, frequentemente realizadas sem o devido consentimento, reforçam a necessidade de reformulação do modelo de assistência obstétrica, com foco na humanização do parto e no respeito aos direitos das mulheres.
A mortalidade materna e a violência obstétrica exigem respostas urgentes, com políticas públicas que enfrentem as desigualdades raciais e sociais e promovam a saúde das mulheres, especialmente as negras, que continuam sendo as mais vulnerabilizadas. A ativista do Odara – Instituto da Mulher Negra, Verônica Santos, coordenadora do Observatório Nós por Nós, comenta que a violência obstétrica é uma violação histórica e recorrente dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, sendo particularmente grave para as mulheres negras. Ela ressalta que, enquanto a maternidade é romantizada e vista como um direito das mulheres brancas de classe média, para as mulheres negras, a maternidade é marcada por sofrimento, dor e uma vulnerabilidade profunda.
“O direito à maternidade não chega da mesma forma, do mesmo local de desejo e dignidade para as mulheres negras, pois existe uma construção social que não permite que vivenciamos essa maternidade de forma cuidadosa, respeitosa e alinhada com os direitos sexuais e reprodutivos”, explica Verônica.
Ela também destaca a falta de assistência durante o pré-natal, que se agrava pela ausência de acompanhamento médico adequado e pela dificuldade de acesso a serviços de saúde.
“Quando não conseguimos garantir a assistência ginecológica e o acompanhamento adequado, a mulher negra passa por um verdadeiro ‘itinerário terapêutico’, tentando acessar atendimento em diferentes maternidades, sem sucesso”, afirma Verônica. Ela critica o racismo institucional que, além de dificultar o acesso, se reflete em procedimentos inadequados durante o parto, como manobras invasivas e a negação de anestesia, baseados no estereótipo de que mulheres negras não sentem dor.
Verônica também fala sobre o papel do Observatório de Justiça Reprodutiva, que atua na questão da ausência de dados sobre os indicadores de saúde das mulheres negras, especialmente no que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos.
“Nós fazemos um processo de monitoramento das violações de direitos e organizamos dados para que possamos servir de base de pesquisa e apoio para outras organizações. Esse caso ganha repercussão, mas as mulheres negras são diariamente vitimadas por processos obstétricos violentos, e a falta de dados sobre isso é uma urgência que estamos enfrentando. É importante ressaltar que esse caso não é um caso isolado, ele é um caso que ganha repercussão, mas que cotidianamente as mulheres negras são vitimadas, são violentadas, têm os seus filhos mortos pelos processos obstétricos violentos, e que essa ausência de dados inclusive é uma urgência na qual nós estamos atuando”, afirma.